É sobre o tema da independência da justiça que escrevemos hoje, pois, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, o seu conteúdo, o seu alcance e as soluções para a assegurar não são óbvios.
Há que começar por realçar que existem dois tipos de independência judicial: aquela que se refere à independência e imparcialidade dos juízes face às partes que se apresentam num julgamento, a que chamaremos independência externa; e a independência do poder judicial face aos outros poderes soberanos, a que chamaremos independência interna.
Quanto à independência externa, isto é, aquela que determina que num julgamento o juiz deve ser imparcial e não ter qualquer ligação ou preferência por nenhuma das partes, é um dado fundamental de uma justiça justa. Não se deve privilegiar o rico sobre o pobre, o Estado sobre o privado, o conhecido sobre o desconhecido. Naturalmente, o juiz não deve ser corrupto e não deve entrar na sala de audiências com qualquer pré-compreensão ou preconceito em relação às partes. Mesmo no crime, existe a chamada presunção de inocência, que obriga o juiz a olhar para o arguido como um cidadão inocente.
Já a independência interna, a relação do poder judicial com os outros poderes, tem um cariz diferente. Para ser totalmente independente face aos outros poderes, o poder judicial teria de escolher os seus próprios juízes, autopromovendo-os, autogerindo-os. Seria um sistema fechado em que aqueles que já lá estavam determinariam tudo o resto. Com os juízes, e só os juízes, a decidirem sobre si próprios, teríamos uma espécie de corporação insindicável, com ressonâncias de ditadura (neste caso, judicial). Qual seria, então, a origem ou razão desse poder? O facto de serem mais sábios? De serem altos? Mais baixos? Parece-nos evidente que não é possível conceber assim – de forma fechada e sem qualquer interferência externa de poderes soberanos – um sistema judicial que seja de facto legítimo.
Por outro lado, numa democracia constitucional moderna, não se vislumbra que os juízes devam receber ordens ou estar dependentes do poder político no exercício das suas funções. Nalguns sistemas, como o chinês ou o islâmico, os magistrados são derivações de outros poderes mais relevantes, como o Estado-partido ou Deus, e aí recebem ordens superiores. Num sistema constitucional democrático, os juízes aplicam a justiça em nome do povo. Há, assim, um valor estruturante – a justiça – e uma legitimidade – o povo.
Face a estes princípios, cada constituição democrática-liberal fez a sua construção relativa à relação entre os poderes do Estado, admitindo sempre uma ligação entre o poder judicial e os outros poderes. Não pode ser de outra maneira. Esta ligação, no entanto, não pode colocar em causa a independência e a imparcialidade dos juízes nas causas que julgam, pelo que a relação entre os poderes está prevista na Constituição de qualquer país, sendo tema da máxima sensibilidade e importância.
Comecemos pelos Estados Unidos da América, que têm a constituição escrita mais antiga da modernidade e um dos poderes judiciais mais fortes do mundo. A relação essencial está estabelecida no artigo 2.º, secção 2.ª, que determina que o presidente nomeará, mediante parecer e aprovação do Senado, os juízes do Supremo Tribunal. Consequentemente, nos Estados Unidos, a mecânica é simples. O presidente nomeia os juízes do Supremo, o Senado aprova, e os juízes exercem depois a sua função. Como se vê, há a participação dos dois poderes, executivo e legislativo, na designação judicial.
De outra maneira dispõe a Constituição portuguesa, aliás na esteira de outros ordenamentos europeus, optando por uma influência indirecta. Em primeiro lugar, no seu artigo 210.º, nº 2, estabelece-se que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça é eleito pelos respectivos juízes. Por sua vez, os juízes são nomeados, promovidos e transferidos pelo Conselho Superior da Magistratura (artigo 217.º). É este Conselho que acaba por ser o repositório da influência política, pois é composto pelos seguintes vogais:
a) Dois designados pelo presidente da República;
b) Sete eleitos pela Assembleia da República;
c) Sete juízes eleitos pelos seus pares, de harmonia com o princípio da representação proporcional.
Quer isto dizer que a maioria do Conselho Superior da Magistratura é determinada pelo poder político (presidente da República e Assembleia da República). Tal como nos EUA, é uma combinação de poder executivo com poder legislativo que determina a nomeação e legitimação dos juízes. A diferença é que em Portugal se criou um mecanismo intermédio chamado Conselho Superior da Magistratura, que de certa forma cria a “ilusão” de que o poder político não interfere na vida dos juízes. Contudo, no fim da linha, é mesmo o poder político que tem a última palavra.
Em Angola, aqueles juristas de brilhantismo inaudito que redigiram a Constituição de 2010 (CRA) arranjaram mais uma “dor de cabeça” ao presidente da República, com um sistema que simultaneamente o responsabiliza unicamente, desresponsabilizando todos os outros, mas não lhe dá poderes de resolução explícitos.
Nos termos do artigo 119.º da CRA, compete ao presidente da República nomear o juiz presidente do Tribunal Supremo, o juiz vice-presidente e os demais juízes do referido Tribunal, sob proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial (que tem maioria de juízes, e não de políticos, artigo 184.º, n.º 2 da CRA). O artigo 180.º, n.º 3 adianta que o presidente do Tribunal Supremo e o vice-presidente são nomeados pelo presidente da República, de entre três candidatos seleccionados por dois terços dos juízes conselheiros em efectividade de funções.
É o presidente da República que nomeia, sem ouvir a Assembleia Nacional, o presidente do Supremo, mediante uma proposta de três nomes apresentada pelos juízes conselheiros. A limitação do presidente da República resulta do respeito pelos três nomes, mas de entre esses três pode escolher quem quiser. É evidente que este sistema torna o presidente da República refém das suas escolhas e deixa os restantes poderes à margem. E é esse o problema que se tem vivido recentemente com as controvérsias à volta do presidente do Supremo e da presidente do Tribunal de Contas. O presidente da República é directamente responsabilizado pelas suas escolhas e está em diálogo directo com os juízes.
Neste contexto constitucional, não se pode afirmar que nem tudo o que se passa nos tribunais superiores é da responsabilidade do presidente da República e que ele não deve ter um papel a desempenhar. Onde o presidente não tem papel a desempenhar é na solução dos casos judiciais apresentados e disputados em tribunal. Pelo contrário, em problemas de cariz não jurisdicional (não ligados a julgamentos) que eventualmente surjam nas lideranças dos tribunais supremos e que afectem o bom funcionamento desses órgãos de soberania, o presidente da República tem uma acção a tomar.
Não se podendo dizer que os presidentes dos órgãos judiciais tenham de ter a confiança política do presidente da República, mas a verdade é que têm de ter confiança institucional, isto é, têm de estar aptos a desempenhar as suas funções com independência, imparcialidade e competência técnica.
Aliás, é o que resulta directamente do artigo 108.º, n.º 5 da CRA, que impõe ao presidente da República a defesa da Constituição e a promoção e garantia do regular funcionamento dos órgãos do Estado.
Esta função de garantia do regular funcionamento dos órgãos do Estado cauciona a sua intervenção com poderes implícitos, políticos, para resolver situações de gravidade. Não entrando em discussões muito alargadas, refira-se que a doutrina dos poderes implícitos é já velhinha, tendo surgido no início do século XIX nos Estados Unidos, e assume que a Constituição, ao conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários para a consecução desta actividade.
Neste sentido, defendemos que é tarefa imprescindível e constitucional da Presidência da República intervir no âmbito dos seus poderes para resolver situações de convulsão no topo das magistraturas. Tal não viola a presunção de inocência de ninguém, porque não estamos perante um processo-crime, mas sim perante uma situação política.
Obviamente, no futuro – no âmbito de uma nova constituição ou de uma sua revisão muito alargada – esta fórmula de nomeação deverá ser revista, no mínimo introduzindo aquilo que o antigo deputado João Pinto defendeu há tempos, que era uma audição pública prévia na Assembleia Nacional dos designados para as presidências. Na realidade, essa reforma deveria até ir mais longe – mas deixemos esse tema para outra ocasião.
Agora, importa salientar o mais simples: o que tem de ser resolvido, deve ser resolvido. A inacção, e não a acção, é que é inconstitucional.
Article publié le vendredi 10 mars 2023
910 lectures

 Voir tous les produits
Voir tous les produits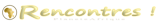



 Dernières publications dans cette catégorie
Dernières publications dans cette catégorie


